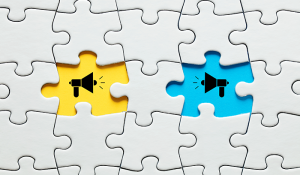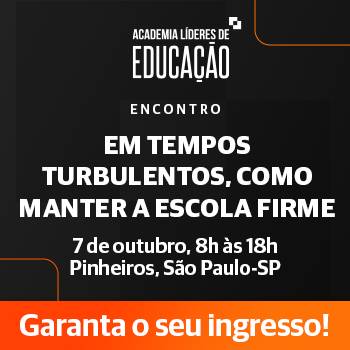NOTÍCIA
Edição 293
Alucinações numéricas: matemática continua sendo um dos maiores desafios da educação brasileira
Os problemas de aprendizagem passam pela ormação docente e pela precariedade geral do ensino. Mas uma coisa é certa: é preciso dessacralizá-la
Estímulos de diversos tipos podem provocar reações variadas no cérebro humano. Luzes em excesso, sons ininterruptos e situações de grande pressão (por resultados, por exemplo) podem causar de estresse e ansiedade a crises epilépticas. Às vezes, a simples audição de determinado tipo de música pode desencadear uma crise do gênero.
Leia também
Neurociência: como ensinar matemática de maneira criativa
Música na escola: não se pretende formar instrumentistas, mas dar formação cultural
O neurocientista americano Oliver Sachs relata em seu livro Alucinações musicais (ed. Companhia das Letras) diversos casos de alterações cerebrais ligadas à música e à ação conjunta de outros fatores, como traumas e cirurgias. O mais curioso é que, inicialmente, os estímulos podem ser prazerosos, como no caso de uma mulher que gostava de música napolitana, mas começou a notar que quando exposta àqueles ritmos entrava em crise epiléptica.
Outro rapaz, um jovem pesquisador, escreveu a Oliver Sachs relatando que a música da Ásia Central provocava uma aura, seguida por uma intensa onda de medo, repugnância ou prazer, terminando em convulsão. Ficou com um sentimento ambivalente, com medo das crises, mas desejo de sentir “as auras agradáveis” anteriores às convulsões. Depois de medicar-se deixou ambas para trás, mas não de todo: foi estudar música e assumiu a atividade ao lado da pesquisa.
Descoberta pelo neurologista britânico Macdonald Critchley, em 1937, a epilepsia musicogênica, ou musicolepsia, como ele preferia, é uma síndrome neurológica rara, provocada por alguns timbres ou instrumentos específicos. O que interessa aqui, além da curiosidade, é frisar que situações que tiram algumas pessoas de sua zona de segurança podem ser altamente desestabilizadoras.
Comparar essas situações ao medo ou pânico que o aprendizado de matemática desperta em alguns estudantes não é, neste caso, um paralelo propriamente científico. Mas não é difícil ancorá-lo nos relatos de um sem-número de professores de matemática ou estudiosos do ensino da disciplina que listam uma série de fatores de ordem cultural sempre que se busca um conjunto de indícios diagnósticos para a dificuldade de aprendizagem que todos sabemos existir. Para muita gente, a matemática causa medo.
Além disso, algumas questões específicas ajudam a equiparar música e matemática: trata-se de duas linguagens não verbais cujo domínio, ao menos em níveis mais sofisticados, costuma exigir dos docentes não só que tenham eles próprios o conhecimento do que ensinam, mas também dos caminhos para torná-lo passível de materialização e sistematização para quem busca aprender. Ou seja, não estamos falando de um processo natural, e sim de uma indução cultural.
As barreiras cultuadas acerca da dificuldade de aprender matemática são uma unanimidade entre os professores ouvidos para esta reportagem, sejam eles professores formadores, docentes em busca de mais qualificação ou ambas as coisas.
“Há um estigma de a matemática ser difícil; o resultado disso é uma pressão emocional, psicológica”, diz Monique Matos, professora do Cursinho da Poli, com 17 anos de experiência em classes de fundamental 2, mestranda com projeto visando a formação de docentes na área de geometria.

A estrutura da BNCC em matemática, trabalhando tudo como uma grande espiral, ajuda a organizar o trabalho docente, observa a professora Monique Matos
Foto: arquivo pessoal
Sua colega de mestrado Cristine de Jesus Moura, desde 1996 na ativa e há três anos trabalhando na educação continuada da rede municipal paulistana (depois de 14 anos lecionando no fundamental 2 na mesma rede), diz que os próprios professores da disciplina reforçam o estigma, acreditando que seu aprendizado não é para todos. “Eles gostam desse lugar em que se veem superiores. Ao mesmo tempo, não refletem sobre a própria prática”, opina.
Um caso singular de reversão de expectativas é o de Guilherme Jacobik. Hoje professor do 4º ano do fundamental no Colégio Santa Cruz, em São Paulo, e das disciplinas de didática da matemática e de ciências no Instituto Singularidades, Guilherme começou a lecionar aos 16 anos, enquanto cursava o magistério. Mas não por demonstrar facilidade em matemática desde cedo. Ao contrário. O pai era professor da matéria, na qual ele via uma barreira, a ponto de ter sido reprovado. Só que não se conformou. Foi em busca não só de aprender, mas de conhecer as melhores estratégias didáticas para que seus alunos encontrassem um sentido na disciplina. “Meu pai não conseguia me ensinar e se afligia, me vendo de longe, pois teve uma formação didática fraca. E ensinava os próprios alunos como ele próprio aprendeu na escola.”

O professor Guilherme Jacobick buscou não apenas aprender, mas conhecer as melhores estratégias didáticas para que seus alunos encontrassem um sentido na disciplina
Foto: arquivo pessoal
Leia também
Diagnóstico ampliado
Se o fato de a matemática ser colocada em um pedestal de difícil acesso, consagrando uma visão errônea de seu ensino, é aceito por muita gente, isso está longe de esgotar o diagnóstico dos motivos pelos quais sair desse lugar é difícil. Desde o início do século, quando alunos brasileiros começaram a participar do Pisa, já virou lugar-comum a apresentação dos resultados do exame internacional mostrando o Brasil nas últimas colocações. Tanto que soa improdutivo repetir esses dados, ao menos sem tentar decifrar o porquê.
Para Antonio José Lopes, o Bigode, doutor em didática, professor, consultor e autor de livros didáticos, as razões são variadas, mas passam por escolhas políticas. Começam no desprestígio da profissão docente nas últimas décadas, passam pelo rebaixamento do nível de exigência curricular da formação e dos estudantes da educação básica e chega aos currículos nacionais e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
“Por isso vamos mal em provas internacionais. Nos países desenvolvidos, a orientação curricular é mais abrangente. O Pisa, por exemplo, envolve raciocínio. Já os nossos currículos de matemática são datados, com ênfase em um formalismo precoce”, diz Bigode, para quem há excesso de conteúdos que não são bem estudados. O ensino de frações e sua divisão, defende, deveria ser dado mais à frente. Como exemplo, cita o currículo holandês, composto por apenas 27 itens.
Nesse ponto, alguns de seus pares destoam, ainda que o discurso de todos seja o de que é preciso mais foco no raciocínio. Se de um lado há críticas à divisão de conteúdos por séries, de outro há quem veja a BNCC como uma organizadora do que deve ser ensinado. Monique Matos diz que a estrutura da Base em matemática, trabalhando tudo como uma grande espiral, na qual sempre se volta aos cinco grandes eixos [ver box] aprofundando cada um deles, ajuda a organizar o trabalho docente.
“Todos os anos trabalha-se em todas as frentes. Essas retomadas são importantes em especial após a pandemia, quando muitos alunos não aprenderam os conteúdos”, lembra.
Segundo Katia Stocco Smole, diretora do Instituto Reúna e formadora, “o Brasil avança com a Base, pois ela traz o que é preciso aprender”. Para a sua implementação, ela defende que se oferte aos docentes uma descrição sucinta das habilidades desejadas, uma por parágrafo. “O professor precisa acompanhar.”
Assim como Katia Smole, o matemático Jorge Lira tem feito diversas análises dos resultados educacionais a partir de dados de avaliações nacionais e do Ceará, onde atua como cientista-chefe do Centro de Excelência em Políticas Educacionais (Cenfe), da Universidade Federal do Ceará. Ele é também membro da Sociedade Brasileira de Matemática. Em relação à utilização do currículo escolar pelos professores, sua percepção é de que eles “se deixam levar pelas exigências do documento, dando prosseguimento linear aos tópicos do livro didático”.
Essa espécie de ‘disparada do currículo’, não dando tempo aos alunos de refletir sobre os temas ensinados, é geradora de problemas centrais, que começam no fundamental 1 e prosseguem ao logo da educação básica. Testes realizados com professores no estado mostraram que eles têm deficiências básicas de conhecimento pedagógico. “O professor conhece tecnicamente o assunto, mas não faz relações.”
O que Jorge Lira aponta como problema dos professores se repete, não por acaso com alunos do fundamental e mesmo do ensino médio, como não identificar a equivalência de números racionais, como ¾ e 75% ou 2/3 e 4/6, casos em que ambos os pares expressam o mesmo objeto. Mesmo assim, diz ele, a proficiência média dos alunos dos anos iniciais aumentou, segundo as avaliações. Mas a explicação para isso, já detectada em outros estudos, é que há prevalência de conhecimentos básicos quando se decompõem os dados em relação às habilidades. Traduzindo em miúdos: “é preciso subir a régua nas avaliações”.

“O professor conhece tecnicamente o assunto, mas não faz relações”, constata o cientista-chefe do Centro de Excelência em Políticas Educacionais (Cenfe), da Universidade Federal do Ceará, Jorge Lira
Foto: arquivo pessoal
Leia também
Único brasileiro indicado ao ‘Nobel da Educação’ trabalha a matemática como ferramenta social
Música e observação
Análise, observação, associação e construção de relações são recursos fundamentais para o aprendizado de matemática. Ao compararmos duas grandezas, conseguimos ver similaridades e diferenças, padrões etc. É aí que volta a celebrada companheira da matemática, a música. O site ‘Descomplicando a música’ (www.descomplicandoamusica.com/matematica-na-musica) traz uma boa explicação, por exemplo, sobre o que são as frequências sonoras – a velocidade na qual as ondas que fazem o som se propagam -, expressas pela unidade Hertz. São elas e sua variação no tempo que formam as diferentes notas musicais. Essas descobertas sonoras são fruto da observação e experimentação do grego Pitágoras (o mesmo do Teorema) ao premer uma corda esticada de modos diferentes.
O problema é que os algoritmos, que são o produto final dessas regras gerais fruto das observações, acabam sendo o elemento-chave do ensino, e não os processos que conduzem a eles. Nesse sentido, como enfatiza Cristine Moura, uma saída pode ser inverter a ordem do processo, ou seja, primeiro fazer o aluno pensar a partir do seu território, da realidade próxima. “Calcular o perímetro do muro da própria escola, ou a área do campo de futebol, faz com que a prática os leve à teoria”, exemplifica.
De toda maneira, o fato de a matemática ser representada por uma outra linguagem requer um caminho de compreensão para seu domínio. Assim como nas notações musicais ou mesmo na escrita da língua portuguesa (ou de qualquer outra), há um processo de transposição de sons e palavras para a sua representação em um código próprio. Como a língua escrita, a matemática e a música também requerem uma alfabetização ou letramento.
“O fato de a matemática ser uma linguagem diferente da verbal interfere muito; há estudos sobre isso em vários países. E são poucos os casos em que a matemática aparece em situações fora do domínio escolar. Além do que, ela usa termos com significados diferentes daqueles a que estamos acostumados. Produto, por exemplo, não é algo que se use ou compre, mas o resultado da multiplicação”, analisa Katia Smole, para quem aprender a ler e escrever matemática é essencial para a autonomia do aluno.
Gargalos
Mas, se as linguagens diferentes são desafiadoras, o próprio domínio da língua portuguesa já constitui um elemento crítico do ensino. Como explica Jorge Lira, a expressão da matemática nos anos iniciais está na língua portuguesa. O entendimento de gráficos e problemas, por exemplo, exige um letramento mais aprofundado para a compreensão textual. Ações como o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) são muito importantes para esse passo, por trazerem o conhecimento de forma sistematizada e auxiliarem os docentes.
“Mas, nas faculdades de Educação, língua portuguesa e matemática não são objeto da formação dos licenciandos de pedagogia”, diz Jorge Lira. Ele também aponta um outro grande gargalo para o ensino de matemática: a passagem do 5º para o 6º ano, ou seja, do fundamental 1 para o 2.
Leia também
Pedro Bandeira: na contramão da informação, escolas e famílias veem o livro como um perigo
Kátia Smole levanta duas hipóteses para esse problema, consubstanciado na queda de proficiência em matemática do 6º ao 9º ano. Investimento menor na formação docente, principalmente na continuada, e a entrada em cena da álgebra em novo patamar. “Aqui, ela aparece como uma linguagem, mais do que como um pensamento. Se o aluno não entende como os números se compõem ou decompõem é difícil entender álgebra. É uma nova alfabetização, feita só na escola, com conceitos mais complexos, como os de fração e números decimais. Para isso evoluir, é preciso um trabalho de recomposição da aprendizagem”, acredita.

O fato de a matemática ser uma linguagem diferente da verbal interfere muito; há estudos sobre isso em vários países. E são poucos os casos em que a matemática aparece em situações fora do domínio escolar”, avalia Kátia Smole
Foto: arquivo pessoal
Outros fatores interferem também nesta passagem de ciclo: um deles é uma mudança abrupta do professor polivalente para os professores especialistas. Em termos gerais, aos docentes dos anos iniciais falta conhecimento específico da matemática; aos docentes dos anos finais, o vácuo está em como fazer a transposição pedagógica dos conteúdos.
“Fazer essa transposição envolve ter todo o processo cognitivo presente, compreender toda a cadeia cognitiva anterior. Por exemplo, o aprendizado das funções quadráticas [de 2º grau] foi antecedido pelas funções afins [1º grau], que às vezes não foram assimiladas. Essas lacunas ficaram mais evidentes na pandemia”, diz Jorge Lira. Para ele, o arcabouço cognitivista ainda está muito em segundo plano nos debates nacionais, divididos entre behavioristas e construtivistas.
“A contribuição que os matemáticos dão ao debate do ensino é essa, porque erramos muito quando estamos na pesquisa. Assim, o matemático treina bastante a metacognição, como o raciocínio se estrutura, se interconecta”, resume.
Nesse processo está implícito o erro na resolução de questões e problemas matemáticos. São os erros que são capazes de mostrar essa estruturação do raciocínio e que permitem que o docente veja – se tiver conhecimento dos processos cognitivos – os caminhos trilhados pelo estudante.
Já no final dos anos 70, o matemático húngaro George Polya dividia o processo de resolução de um problema em quatro etapas: a sua compreensão; a construção de uma estratégia de resolução; a execução da estratégia e a revisão da solução. Ao caminhar por esses passos, George enfatiza as operações mentais postas em prática para a resolução. Essas operações mostram caminhos diferentes de resolução, muitas vezes significativamente reveladores. Errar muito pensando pode ser uma chave de sucesso no aprendizado.
Os cinco eixos de matemática na BNCC
- Números e operações
- Álgebra e funções
- Grandezas e medidas
- Geometria e estatística
- Probabilidade e combinatória
Escute nosso episódio de podcast:
Leia Edição 293