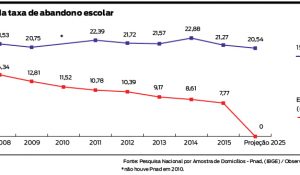NOTÍCIA
Edição 241
Educação deve romper tendência de separar fenômenos biológicos dos culturais, defende neurocientista
Em entrevista, Fernando Louzada fala das contribuições da neurociência à educação

Foto: © Juan Guerra/Instituto Ayrton Senna
“Devemos olhar os dois lados”, diz Louzada, referindo-se ao conhecimento biológico do desenvolvimento, associado à riqueza proporcionada pelas interações com outras pessoas. E alerta: “a neurociência não vai resolver todos os problemas. Aprendizagem e desenvolvimento são coisas muito complexas”, alerta.
Palestrante do III Grande Encontro da Educação, evento promovido pela revista Educação que acontece em São Paulo nos dias 28 e 29 de agosto, Louzada, pós-doutor pela Harvard Medical School, fala a seguir das contribuições da neurociência à educação, e desfaz enganos, como a visão de que a memorização é apenas um recurso de uma educação conteudista.
Nas últimas décadas, houve grande avanço na neurociência. Quais as descobertas mais relevantes?
Esse avanço está muito atrelado ao surgimento de técnicas que possibilitaram olhar para o cérebro, para a estrutura e o funcionamento cerebral, para detalhes de mecanismos de comunicação entre as células, os neurônios. A partir daí, pudemos entender um pouco melhor os processos relacionados à aprendizagem, à cognição, à emoção. A compreensão que temos hoje da plasticidade cerebral é bastante distinta da que tínhamos há algumas décadas, pois conseguimos observar as mudanças que ocorrem não só no funcionamento cerebral, mas na estrutura física do cérebro. Com isso, conseguimos compreender o que acontece durante o desenvolvimento, os processos de aprendizagem.
O que a neurociência tem a acrescentar à educação?
A compreensão da plasticidade cerebral nos traz mais esperança e responsabilidade, principalmente em relação aos primeiros anos de vida, pois o cérebro se constrói a partir das interações e experiências que a criança tem. Isso dá mais importância à educação. Por outro lado, a compreensão de alguns processos, como a linguagem e as emoções, nos permite desenvolver ferramentas de avaliação e intervenção em relação ao que está acontecendo. E, num futuro próximo, talvez tenhamos diagnósticos mais precoces sobre algumas dificuldades. Na minha área específica, hoje conhecemos a importância do sono, o que não ocorria 20 ou 30 anos atrás. Ou seja, a neurociência apresentou à educação mais uma demanda, a de que nos preocupemos com o sono e com os fatores fisiológicos associados, como alimentação e atividade física. São fatores fundamentais e estudos de neurociência têm contribuído para compreendê-los. Mas é preciso ressaltar que se trata de uma perspectiva que traz contribuições, mas não traz prescrições. Preocupam certas abordagens nesse sentido, pois a neurociência não vai resolver todos os problemas. Aprendizagem e desenvolvimento são coisas muito complexas.
Quais os caminhos para a interação entre neurociência e educação?
A espécie humana se distinguiu de outros primatas pelo fato de termos uma capacidade intelectual distinta. Em termos individuais, ontogenéticos, o que acontece com o cérebro ao longo da vida, da gestação ao envelhecimento, é muito relevante. A plasticidade faz com que não sejamos tão deterministas em relação às dificuldades de aprendizagem, ou de alguns transtornos. Diante das evidências dessa plasticidade, temos de apostar no poder da educação. Costumo dizer que nós, professores, somos escultores do cérebro, temos a capacidade de modificar a configuração física do cérebro, não só a funcional. Há essa possibilidade de modificar os processos cognitivos por meio da educação, na perspectiva dessa ontogênese.
Não há risco de um olhar positivista em relação à educação?
Sem dúvida nenhuma. Diria que essa visão de que, a partir do conhecimento do funcionamento cerebral, vamos poder modificar e resolver todos os problemas é ingênua. Como disse, a neurociência não é prescritiva. Os estudos de plasticidade mostram que o ambiente de interação social é decisivo para o desenvolvimento. Não adianta olhar só para o cérebro, para as sinapses. Michael Ruff, pediatra da Universidade de Indiana, é bastante crítico em relação a essa abordagem biológica, e diz que precisamos olhar mais para o ambiente da criança e menos para o ambiente das sinapses. Creio que devemos olhar para os dois. Compreendemos bem como o sistema nervoso funciona, e isso é muito importante, por exemplo, para identificar as dificuldades mais precocemente. Não é questão de defender diagnóstico precoce. Mas, falando de desenvolvimento da linguagem, começam a surgir possibilidades de identificar alterações no funcionamento cerebral que indicam uma dificuldade futura na aquisição da leitura e da escrita, por exemplo. Isso permitirá intervenções mais precoces.
Muitos educadores são contra esse tipo de avaliação de crianças com 4 ou 5 anos, por questões éticas. Como vê essa questão?
Sempre há essa questão, e até concordo com isso. Você vai fazer um diagnóstico, por exemplo, antes de a criança ser exposta ao ensino sistematizado da leitura e da escrita. Mas não é fazer um diagnóstico da dislexia, e sim identificar dificuldades do processamento da linguagem oral que podem indicar dificuldades futuras. Claro que isso ainda não é uma prática corriqueira, são ferramentas que estão surgindo em laboratórios de pesquisa e que em breve estarão disponíveis. Não é diagnóstico. Por outro lado, temos de enfrentar essa crítica de que isso é determinista, e que vamos fazer diagnóstico mais precoce. Em alguns casos, vamos sim. O autismo, por exemplo, se existirem em breve ferramentas que possam fazer um diagnóstico mais precoce – e há colegas otimistas quanto a isso –, será ótimo, pois a intervenção será mais efetiva. Vivemos esse momento em que não podemos ser ingênuos em relação ao que a neurociência nos oferece, mas o caminho oposto, de negar a contribuição que ela traz, com uma crítica de que é uma abordagem excessivamente biológica, é algo de que também discordo.
A alta vulnerabilidade, decorrente principalmente da violência, causa que tipo de consequência?
Nos últimos três anos surgiram trabalhos – em especial um publicado na [revista científica] Nature Neuroscience, em maio de 2015 – mostrando a relação entre a educação parental e a estrutura cerebral, notadamente em regiões corticais envolvidas com o processamento da linguagem e das funções executivas. Outros trabalhos mostram de que maneira o ambiente favorável ou desfavorável altera a estrutura física do cérebro, o impacto que o ambiente nos primeiros anos de vida tem sobre o cérebro da criança. Isso sinaliza a importância dos primeiros anos de vida, o que estamos fazendo com as crianças nessa fase, num processo que deixa marcas na estrutura e no funcionamento cerebral. A questão mais complexa é como a escola pode mudar isso, o que pode fazer. É uma questão de políticas públicas, que precisam ser modificadas, dando apoio à família e à escola.
A falta de saneamento básico afeta as crianças de modo irreversível?
Em termos de condições desfavoráveis o que mais influencia negativamente o desenvolvimento cerebral é a fome e o estresse gerados pela violência e falta de cuidado parental. Claro, a falta de saneamento pode gerar como consequência desnutrição ou algumas doenças parasitárias, mas, pelo que sabemos da plasticidade cerebral, irreversível é uma palavra muito forte.
E o uso dos dispositivos digitais já na primeira infância modifica o jeito de as crianças aprenderem e pensarem? Quais consequências advêm?
É uma questão bastante polêmica e recente. Como estudos mais controlados levam tempo para serem realizados, não existe praticamente nenhum consenso a respeito. Não dá para demonizar o uso dos dispositivos, como também não dá para falar que vieram para ampliar as capacidades cognitivas, ainda não dá para sabermos quais são as consequências. Mas temos algumas preocupações e indicativos de que precisamos tomar cuidado com isso. Em relação ao uso geral de dispositivos eletrônicos – uma aluna minha acabou de defender uma tese sobre isso, relacionada ao sono – é impressionante o número de horas de uso. Quando vi os dados internacionais que dizem que uma criança de 8, 10 anos fica entre 10 e 12 horas em contato com uma tela, achava absurdo. Mas fizemos esse levantamento aqui no Brasil, um estudo epidemiológico em Curitiba, e deu o mesmo resultado. Se pensarmos que a criança passa outras 8 horas dormindo, ela fica muito mais diante de uma tela do que de outras coisas. A preocupação atual no nosso laboratório é compreender o que isso significa, o quanto compromete o sono, como os dispositivos eletrônicos estão modificando as interações sociais e como isso pode comprometer a capacidade de se colocar no lugar do outro, de reconhecer emoções na face do outro e assim por diante. Mas são preocupações, pois ainda não há dados que permitam dizer que o uso desses dispositivos faz isso ou aquilo, assim como não há consenso quanto ao uso de jogos de ação de videogames. Se por um lado há muitas evidências mostrando que o uso de jogos de ação – a maior parte deles têm tiros e violência – pode exacerbar comportamentos violentos, por outro lado desenvolve habilidades de percepção visual importantes para o desenvolvimento cognitivo. Temos de olhar para os dois lados, tentar entender o que está acontecendo.
E quanto às crianças menores?
O consenso é que antes dos dois anos de vida os dispositivos tecnológicos são prejudiciais por um motivo mais evidente: o cérebro foi construído na evolução por meio da interação social. As nossas habilidades cognitivas e emocionais dependem da interação social. Um dispositivo digital jamais vai cumprir o papel da interação social com pais, parentes e amigos. Tem estudos que mostram isso. Você aprende melhor uma língua se você está exposto a um professor do que se está exposto a um vídeo ou a algum outro dispositivo digital.
Os dispositivos podem de algum modo facilitar as interações sociais?
Eles criam um tipo diferente de interação social. Se você está num grupo de WhatsApp falando com 80 pessoas ao mesmo tempo, não está desenvolvendo a capacidade de olhar para o outro e saber o que ele está sentindo.
E do ponto de vista motor, quais podem ser as consequências de passar 12 horas à frente de uma tela?
Há aumento do sedentarismo. Cria-se uma dependência semelhante a outros tipos, como aquela dos psicotrópicos ou dos jogos de apostas. Há estudos mostrando que algumas áreas ativadas ou que têm funcionamento alterado em pessoas dependentes de games são semelhantes às áreas ativadas em outros tipos de dependência. É uma dependência a mais para a qual temos de olhar e nos preocupar. Não há dúvida de que têm de ser colocados limites, em termos de horários e tempo. Apesar de isso não ter sido incorporado ainda aos manuais de transtornos, ao DSM [o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais], já podemos tratar isso como um tipo de dependência. É preciso acompanhar.
Há muitas críticas em relação à memorização na aprendizagem, mas ela cumpre um papel, não?
Esse foi um dos legados de algumas mudanças que ocorreram nas últimas décadas na educação, entre as quais a de abandonar toda proposta que era supostamente conteudista, vinculada à memorização. A memorização é a base da aprendizagem. Se olharmos o funcionamento cerebral, vamos ver que a repetição é essencial. Essa ideia de “vamos abandonar por completo a memorização, nada precisa ser memorizado” vai contra a lógica do funcionamento cerebral. Quando é que consolidamos mais a aprendizagem? Com a repetição e quando aquilo que a gente está aprendendo tem um colorido e um conteúdo emocional, um significado para a vida. Temos de juntar essas duas coisas. O interessantíssimo é que o cérebro já faz isso. Quando alguma experiência nossa é emocionalmente relevante, ele fica reverberando isso durante a vigília e durante o sono. É como se o cérebro estivesse fazendo esse papel de repetição. A gente sonha com aquilo, às vezes não lembra que sonha, as redes neurais que representam aquilo reverberam isso a serviço da consolidação. Quando queremos memorizar uma coisa que não tem relevância emocional grande, precisamos fazer essa repetição. O que ainda não conseguimos resolver é que continuamos a fazer aquilo que fazíamos antes da disponibilidade de informação que existe hoje, no mundo, na internet, nas redes sociais. Precisamos ver o que é mais importante selecionar para memorizar. E há, é claro, uma quantidade enorme de informação que não precisamos mais memorizar, como gastar quatro horas para decorar o nome dos 200 e tantos ossos do corpo. Para isso, basta apertar um botão. E uma boa parte do que ainda se faz em sala de aula é esse trabalho com um conteúdo que poderia ser deixado de lado.
Selecionar é o mais difícil…
É, não tem como pensar no vazio. É preciso priorizar conceitos que se quer trabalhar e que habilidades desenvolver. Tem de abrir espaço para isso. Apesar de todo o discurso, ainda não abrimos esse espaço. Precisamos começar a pensar no que já está disponível, o que não precisamos memorizar, listas, classificações, excesso de informação. Por outro lado, há conceitos fundamentais que temos de memorizar. A memória é a base do indivíduo, traz o que as experiências deixaram no cérebro, é o que nos constitui como pessoa.
Avaliações constantes ajudam?
Todos os dados disponíveis dizem que sim. Revisitar as informações, conteúdos e habilidades é importante. Costumo fazer uma comparação quando os professores me perguntam por que um videogame é mais interessante do que uma aula. Por vários motivos. Não precisamos transformar a nossa aula num videogame, mas os jogos fazem algo sem que a gente perceba, que deveríamos levar em conta: em primeiro lugar, têm objetivos muito claros, o que não acontece com as aulas. Você passa ou não de fase, morre ou não morre. E o jogador gradativamente vai incorporando as habilidades. A escola não faz isso. Não avalia sempre, não dá retorno, ou dá apenas no final do bimestre, do semestre, do ano. Para dar um retorno mais constante, mais sistemático, tem de avaliar mais. Não só avaliações formais, mas de alguma maneira têm de estar no planejamento da escola avaliações mais constantes, que façam o aluno saber se ele passou ou não de fase, se precisa ou não voltar àquele conteúdo, àquela habilidade.
Classes com muitos alunos não inibem essa prática?
Aí entra a tecnologia. Já dispomos de ferramentas de acompanhamento, de gestão, de avaliação que as escolas ainda não aprenderam a utilizar. Boa parte disso pode ser delegada a sistemas de acompanhamento dos alunos. O professor pode dispor de relatórios que permitam monitorar esse processo.
Leia Edição 241