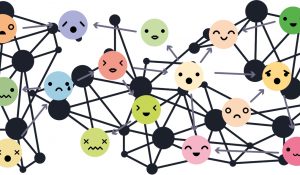NOTÍCIA
Edição 243
Escola e igualdade (parte 2)
José Sérgio Fonseca de Carvalho escreve sobre Jacques Rancière e o compromisso político da ação educativa

Foto: Shutterstock
Para Rancière, a igualdade não é um fato cuja presença – ou a ausência – possa ser testada por uma investigação empírica. Ela não se deixa apreender pela apresentação de estatísticas ou pela mensuração de testes psicométricos que avaliam desempenhos. Liberdade e igualdade, afirma Rancière, são potências que se engendram e crescem por um ato que lhes é próprio. Noutras palavras, elas não são fatos de uma ordem social, mas uma possibilidade a ser afirmada e construída pela ação humana, em um movimento perpétuo de busca de verificação e produção. Nesse sentido, o compromisso político do educador não é o de constatar uma desigualdade, mas, ao contrário, o de tomar a igualdade como axioma, assumindo-a como hipótese prática e não como enunciado passível de falsificação. Isso implica conceber-se como um sujeito capaz de produzi-la, atualizando uma potencialidade e inscrevendo-a na experiência política.
Assim faz Jacotot, o Mestre Ignorante que ousou assumir a igualdade das inteligências como hipótese prática para suas experiências pedagógicas no século 19. Não lhe interessava hierarquizar as desigualdades de desempenho, nem as comparar a um desempenho ideal previamente estabelecido pelo Mestre. Ao adotar a igualdade das inteligências como um postulado, interessava-lhe verificar a aptidão de todos para, por si mesmos, aprender o que ignoravam, tal como um dia aprenderam sua língua materna. Porque toda obra humana é um ato que atesta sua inteligência. E porque toda obra humana pode ser compreendida por outra inteligência humana. Era esse o sentido que ele conferia à noção de emancipação: uma prova que alguém impõe a si mesmo de se verificar como igualmente capaz; uma prova de que se é efetivamente capaz de pertencer a uma comunidade que partilha objetos simbólicos comuns e deles extrai significados próprios. Uma prova de que somos capazes de efetivamente inscrevermo-nos como iguais na partilha sensível de um mundo comum.
Assim, assumir a igualdade como marca do humano – adotando como princípio prático da igual capacidade de todos para se tornarem seres dotados de linguagem – implica mais um compromisso político do que um método pedagógico. Um compromisso que sabe que a escola não produzirá a igualdade social, mas que não abre mão de expandir a igualdade para esse campo: o da experiência escolar como uma oportunidade de atestar o igual direito de todos em fruir das obras da inteligência humana; de dar uma interpretação própria a esse legado de realizações históricas que escolhemos transformar em uma herança comum. Não para homogeneizar desempenhos, nem como instrumento de produção de uma igualdade social que lhe escapa. Mas como um campo em que se pode inventar formas que atestam a potencialidade da igualdade como hipótese prática.
Leia Edição 243